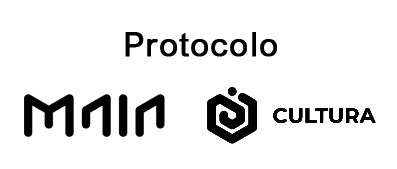Reflexões e Textos de Circunstância
Parabéns ao Fazer a Festa pela 42ª vez e, que venham mais!...
por Cecília Couceiro - 06 de Julho de 2023
Olá a tod@s, gente boa, generosa, criativa e criadora de magia e arte, potenciadora de possibilidades e oportunidades para atores, grupos de teatro e públicos diversos e diferenciados, fazedores d'Arte Plena Integral, aberta a todos, disponível a ser livremente desfrutada e explorada por pequenos e graúdos!... Lançadores de sementes!...
Parabéns a todo o grupo de trabalho e, bem hajam pela diversidade programática, qualidade e dinâmica impressa nesta semana em festa do Fazer a Festa, que augura o garante da continuidade e atualização da qualidade teatral, sustentada num grupo de gente dedicada, empenhada e trabalhadora, que sabe partilhar, criar parcerias e dinâmicas intergrupos deveras interessantes, a bem da criação e inovação teatral, mas também no fomento e criação de novos grupos, artistas e projetos, contribuindo para a sustentabilidade da paixão de que se alimentam os sonhos, tornando realidade o "sonhar fazer", "fazendo acontecer" a " vida que se ensaia em palco" para tanta gente!...
Por último, e não menos importante, gostaria de destacar o Fazer a Festa como um "lugar de encontro" entre aqueles que gostam do teatro e o fazem acontecer com paixão, suor, empenho e dedicação, com custos pessoais e familiares e aqueles que também se questionam e ao próprio ato teatral, nas suas diversas formas e sobre ele refletem e teorizam, bem como proporciona a todos aqueles que o descobrem verdadeiros momentos de magia poética, que só a Arte na sua máxima expressão possibilita atingir!...
O Art'Imagem detém em si, promove e expressa com arte a arte de Fazer a Festa acontecer há 42 anos mas, também em diversos momentos e projetos multiculturais internacionais e locais, projetos que abrangem vários grupos etários locais nas "oficinas", no "teatro falado" e tantas outras iniciativas pontuais, que são expressão e garante de inovação e continuidade do Art'Imagem que, continuará a ter no Zé Leitão a sua referência e expressão máxima de criação, garantida ainda pela equipa de todos aqueles que o têm acompanhado, discutindo, divergindo, chegando a consensos negociados, partilhando sonhos, angústias, incertezas e esperanças num futuro próximo onde as oportunidades são uma possibilidade a agarrar... e o fazem acontecer como "Família"!...
A tod@s, o meu Bem Hajam por tudo o que de bom trazem à minha vida, ampliando a alegria e significado do Palco da Festa da Vida!...
Grata e sempre ao dispor,
Cecília Couceiro (Espectadora)

Dia Mundial do Teatro 2021
por José Pedro Pereira - 27 de Março de 2021
“All the world's a stage”, ou “Todo o mundo é um palco”, escrevia William Shakespeare em “As You Like It”. Hoje é dia 27 de março de 2021, dia Mundial do Teatro, e a citação do bardo continua a acarretar novas camadas de significado. Hoje, vivemos numa era em que existem dois mundos paralelos, a tão aclamada binária do presencial/virtual. Hoje, os teatros estão fechados em Portugal. Hoje, estamos a passar por uma pandemia mundial. Hoje, não podemos circular entre concelhos. Hoje, podemos assistir às 11h00 uma peça de teatro em Lisboa, às 16h00 outra no Porto e às 21h30 uma outra no Algarve, tudo isto em pijama, trajes menores, ou completamente nus, as you like it. Hoje, gostava de cheirar o pó queimado pelos projetores, ouvir o murmurinho da plateia enquanto as luzes se apagam, interrompido pela voz de uma atriz, sentir o assento a receber o meu corpo e depois o vento da noite a esfriar os ânimos aquecidos pelas palavras proferidas em palco. Hoje não tenho isso, mas pelo menos tenho um cheirinho de esperança de voltar a ter em breve. Porque hoje, tal como ontem e amanhã, o teatro ganha novas formas de se reinventar. Hoje, todo o mundo é um palco e todo o palco entra no nosso mundo sem fronteiras. Viva o Teatro e Viva a Vida!
José Pedro Pereira - Dramaturgo, Assistente de Produção do Teatro Art'Imagem e Colaborador do Fundo Teatral Art'Imagem/CC Maia

Daniela Pêgo na peça "Desumanização", 115ª Criação do Teatro Art'Imagem
O movimento estático: Henri Bergson, Samuel Beckett e Covid-19
por José Pedro Pereira - 25 de Maio de 2020
“Não tenho tempo”, uma das expressões mais famosas universalmente. Tecnicamente, é uma expressão que estará sempre correta, independentemente do contexto. A partir do momento em que dizemos tê-lo, já não é tempo que temos. O próprio termo “tempo” já é contra a sua natureza. No entanto, somos escravos dele, por mais absurdo que isso soe.
A ideia abstrata de “tempo”, segundo a teoria do filósofo francês Henri Bergson (1859-1941) é indissociável da noção de movimento. Apesar de esta noção se situar mais centrada num plano físico do que metafísico, Bergson procura estabelecer um equilíbro entre ambos, sublinhando o modo como o movimento se interseta com os conceitos de mudança, evolução e fluidez. Bergson vê o movimento como a força vital da existência, tal como já Aristóteles o fizera, ao criar o conceito de “entelequia”. No entanto, a visão aristotélica é binária, consistindo a entelequia numa oposição à “stasis”, sendo que a primeira corresponde à realidade perfeita de algo enquanto a segunda a corrompe. Em “Introduction à la métaphysique”, contudo, Bergson demonstra uma atitude contrária, afirmando que a “stasis” é apenas um espaço efémero entre mobilidades.
Para Bergson, o tempo é algo que não pode ser quantificado, visto que este pressupõe, na sua essência, uma não-duração. O tempo é o movimento perpétuo; a mudança e a evolução; a diferença; um fluxo indiferenciado e eterno que apenas pode ser apreendido por métodos que irão subverter a sua própria essência não-estanque. Bergson defende um mundo em perpétua transição, um mundo de devires infinitos onde o tempo deve ser visto como uma entidade não-divisível, nunca podendo ser tratado da mesma forma que o espaço. Vemos, pois, como o movimento e a mudança são cruciais para a noção bergsoniana de tempo. No entanto, quando aplicada aos seres naturais, a noção de tempo cria sempre mudança e movimento, mas nem sempre depende do movimento voluntário do sujeito, pois mesmo parados vivemos num “perpetuum mobile”.
Sirvo-me agora da literatura, mais especificamente do multifacetado escritor irlandês Samuel Beckett (1906-1989), para exemplificar este conceito. A sua obra está recheada de exemplos que demonstram como a mudança e movimento não implicam deslocação, dado o leque de personagens que se encontram estáticos ao longo de toda a sua existência: Hamm, em “Endgame”, embora estático na sua cadeira de rodas, é movimentado por Clov e, apesar de não ter qualquer tipo de controlo motor sobre si próprio, é ele quem controla todas as outras personagens da peça; Murphy, em “Murphy”, senta-se numa cadeira de baloiço, completamente atado a ela, estando então simultaneamente estático e em movimento; Winnie, em “Happy Days”, apesar de enterrada até à cintura durante todo o primeiro ato, e até ao pescoço durante o segundo, encontra-se num constante devaneio insano ao longo de toda a peça e consegue movimentar-se através do discurso, ainda que imobilizada, estática; do mesmo modo, Malone, em “Malone Dies”, estático numa cama, à espera de morrer, consegue todavia movimentar-se através das suas ficções, permanece em movimento através da linguagem, continua vivo.
Da filosofia à escrita, acabamos com o tão atual Covid-19, este monstro que nos assombra atualmente e faz com que esta noção de movimento estático seja muito relevante. Vejámos: num período de confinamento em que a grande parte da população se manteve em suas casas, o mundo continuou a movimentar-se. Graças às múltiplas plataformas virtuais, conseguimos navegar sem sair de casa. Quase tudo está disponível à distância de um “click”. No entanto, como em tudo, existem sempre os dois lados da moeda. Para vários profissionais, a utopia virtual rapidamente se transformou em distopia com o conceito de “Teletrabalho”. Neste momento, há sempre tempo para estar disponível, há sempre a possibilidade de responder a um email de madrugada, há uma corrida à disponibilidade total e imediata, uma isenção de horários não comparticipada. O professor João André Costa relata-nos como experienciou este problema na sua crónica para o jornal Público “Teletrabalho ou a disponibilidade contínua”, dizendo que realmente não tem tempo como tinha quando trabalhava presencialmente: “Nessa altura ainda tinha as sextas e os sábados à noite, hoje nem isso”.
José Pedro Pereira - Dramaturgo, Assistente de Produção do Teatro Art'Imagem e Colaborador do Fundo Teatral Art'Imagem/CC Maia

Fotografia de José Pedro Pereira
Por esta estrada de arte e imagem
por Samuel Pascoal - 18 de Maio de 2020
“A “imagem”: beijo súbito na abertura do olhar, seiva de memórias, génesis da expressão artística, turbina do visionarismo, mestre-de-cerimónias incitando à descodificação de um imaginário uni/omnipessoal; e no Teatro, particularmente, força nuclear da sua própria etimologia, fundamento desse “lugar onde se vai para ver”. Algo me sugere que o termo “Art’Imagem” tenha brotado desta consciencialização poética do poder imagético. Talvez tenha sido esse o líquido amniótico que envolveu o feto nominal desta Companhia de Teatro, fundada em 1981, e que agora, 37 anos depois, passa a receber-me regularmente para integrar algumas das suas equipas artísticas.Nestas horas dilacerantes, que obsidiam e conspurcam a cultura em Portugal, os contornos da “imagem” são encardidos e pesarosos, exigindo-me um depoimento que produza um efeito tanto quanto possível útil: que as seguintes reflexões sejam ígneas, e que, de alguma forma, galvanizem a substância dos Art’Imagem (e por conseguinte, também relembrem a de outras tantas Companhias). Recordo, por isso, a luz desta constelação de criativos para que um feixe luminoso, por mais ínfimo que seja, irrompa deste nevoeiro insidioso, evitando acrescentar mais confrangimentos aos gritos de resiliência e de desespero já muito avolumados, e como tal, suficientes para o entendimento do vexame circunstancial.
“Quando é que te vejo a representar num “teatro nacional”?”, questionaram-me, certa vez. O intento da pergunta é talvez inofensivo, mas esconso nos seus bastidores reside aquilo que se me afigura uma peçonha, uma comparação ilusória. Para começar, sempre vi esse patenteamento da palavra “nacional” nos nomes dos teatros como um gesto puramente redundante. Qualquer teatro situado no interior das delimitações fronteiriças do respetivo país é, à partida, um teatro nacional. Ainda que difira na forma, na qualidade, na arquitetura, na história, nas dimensões, nas capacidades, na logística, ou nos apoios, o teatro praticado na sala mais vistosa é, na sua raiz, o mesmo teatro que se pratica noutros espaços com características distintas. Não era Peter Brook que dizia: “posso chegar a um espaço vazio qualquer e fazer dele um espaço de cena”? Cada “espaço de cena” pode ser experienciado de forma poderosa; cada “espaço de cena” nunca será nem mais nem menos do que outro; e dado que “há algo de podre” na forma como se governa este reino cultural português, cada possibilidade de trabalho num “espaço de cena” é um gáudio motivo de agradecimento. E foi com esse agradecimento que atravessei o vestíbulo dos Art’Imagem (também ele um teatro nacional, claro!), onde reside uma equipa artística apaixonada, resiliente, séria, experiente, dinâmica, e capaz de produzir experiências teatrais genuinamente venustas e acutilantes. Estava, então, na casa em que assisti a um dos dois únicos espetáculos que me despoletaram uma vera comoção: “Um Punhado de Terra”, de Pedro Eiras (99ª Criação do Teatro Art'Imagem – 2011). Na casa de uma Companhia que conhece a verdadeira dimensão espiritual do relacionamento com o público - comprovado pelo notório trabalho comunitário empreendido no município da Maia – e que se distancia dessas posturas ideológicas ensimesmadas, que considero pouco ou nada teatrais. E para mal daqueles sofomaníacos pestilentos do mundo profissional que, descabidamente, injuriam o teatro de “amadores”, quis a provocação cómica da vida que conhecesse o benemérito dos Art’Imagem, precisamente, no MAIA AO PALCO - Mostra de Teatro de Amadores da Maia…
Sempre que entro no laboratório cénico desta companhia, agradeço, e incorporo o ensinamento que Zeami Motokiyo (um dos fundadores do teatro Nô) transmitiu aos atores: ser um “recipiente vazio”, sendo a solidez do recipiente as capacidades talentosas e contributivas para se erguer uma experiência teatral; e o seu vazio, o estandarte de recetividade, da complementaridade contributiva e colaborativa, o espaço onde se recebe a imprevisibilidade de um novo processo criativo, e, especialmente, novas aprendizagens e imprevisíveis amizades.
Nos Art’Imagem, a minha experiência não é tanto definida pelo que a companhia é, mas, sobretudo, pelo que busco ser e acrescentar no espaço que a companhia, aprazivelmente, me dá. A função de assistente de encenação é exemplo da autoexigência com que moldo esse espaço. Entendo essa função como uma posição ideal para nos iniciarmos na mecânica anatómica de uma Companhia, e faço dela um epicentro de sustentabilidade. Ao exercê-la, sou uma espécie de olho orwelliano que tudo vê; falcão silente e disciplinado, sobrevoando os planaltos cénicos, no zelo do seu correto funcionamento; não caço animais, mas caço lacunas que escapam, caço apontamentos dos encenadores; levo as palavras esquecidas aos atores; discuto opiniões e opções; escuto (porque saber “escutar” é essencial) os vários intervenientes das equipas artísticas; analiso manuais de leitura com produtores; articulo as várias comunicações com o córtex da encenação; e, peculiarmente, cheguei a trazer a minha própria máquina de café de casa para suprir a necessidade dos companheiros de trabalho, quando o bar que ladeia o teatro se encontrava encerrado… E tudo isto, e mais, sem nunca deixar de questionar e buscar. Pois quando questiono e busco, tenho a certeza de estar a fazer Teatro. Em suma, crio um espaço meu e de todos, que se revela uma sala de aulas profícua, onde não entra a arrogância anti-pedagógica que, por vezes, deambula com mascarada frustração pelo ensino do Teatro.
Por vezes, dou por mim, feito saltimbanco, numa carrinha amarelada a atravessar quilómetros de asfalto em direção a vários palcos espanhóis, onde se celebra a interculturalidade artística. Nas horas ledas da viagem, quando o silêncio do cansaço se abate sobre o compartimento, mergulho na leitura de ensaios teatrais. Nesses instantes solitários, estou a trabalhar-me; por mim, por eles, pelos que virão, pelos mundos que haveremos de construir com públicos. Enquanto isso, a estrada vai-se desenrolando lá fora, com a paisagem em constante metamorfose. “A estrada é vida”, constato, ao recordar Kerouac. E logo agradeço, na humildade do silêncio, vendo o Teatro ali, a envergar o figurino de Estrela Polar; ofertando-nos, ainda, um rumo… Gosto da estrada. Gosto da estrada com Arte e Imagem. Gosto da estrada que leva ao Teatro. E do Teatro que faço com estes “saltimbancos”, e do que eles me ensinam por essa estrada cénica fora, muitas vezes sem o saberem…
Mas eis que a estrada se peja subitamente de buracos enormes… Ao menos, não é seu o fim… A estrada continua. Esfacelada, mas alongando-se para lá do horizonte… Sinuosa… Imprevisível… Mas ainda à vista.
“É na prática do teatro que a minha fé é exercitada.”, dizia o dramaturgo Simon Stephens. “Operamos num tempo em que os nossos países são liderados por gente que governa com base na suposição de que devemos suspeitar, temer e resistir ao outro. E vezes sem conta, na vida que levo no Teatro, cruzo-me com a possibilidade de confiar nas outras pessoas, e de elas me inspirarem e me infundirem com as maravilhas que são capazes de fazer.” Desta minha plateia discreta e silente, vejo os Art’Imagem infundirem a “fé” e a confiança em mim, nos seus e nos de fora; vejo-os ensinar outros a autoconhecerem-se e a abraçarem-se; vejo-os congregar irmãos de armas de diferentes nações para se discutir e se consciencializar sobre Teatro; vejo-os reunir a comunidade em sessões de leitura de peças num país que necessita de ler mais; vejo-os com um vasto espólio de material dramatúrgico disponível ao público; e mais. Eis um exercitar da conexão humana, da cultura e da espiritualidade. Eis a demonstração de que os Art’Imagem, não só agora, mas desde sempre, estiveram UNIDOS PELO PRESENTE E FUTURO DA CULTURA EM PORTUGAL (e não só). Onde gesticulou o velho ancião tribal ao narrar estórias místicas que deleitavam os nossos cândidos e primitivos antepassados, gesticulam agora os Art’Imagem (e outros), conhecedores do verdadeiro poder lustral desse gesto narrativo: contamos estórias para fazermos sentido de nós mesmos; ainda que hoje, infelizmente, o tempo passado em torno da fogueira se delongue nas horas burocráticas e não tanto na alquimia da criatividade…
Um dia, um certo empresário provocou-me, dizendo, “Se o Teatro não dá receitas satisfatórias, porquê investir nele?”. Cego estava o ego, adormecida estava a consciência do ser, e numa desconexão espiritual de anos-luz definhava a existência. Não foi difícil perceber que a patologia capitalista lhe assassinara as células mais virtuosas. Algumas delas, ainda moribundas e em seus últimos espasmos, buscavam uma morte shakespeariana a fim de tornarem aquele sujeito um pouco mais interessante. Quanto a ele, estava nitidamente carente de teatro, e não o percebia… Porém, se um dia tais seres despertarem, sei que os Art’Imagem serão uns dos que lá estarão para recebê-los, e aí poderão entender o porquê de se “investir” no Teatro.
Samuel Pascoal, Actor
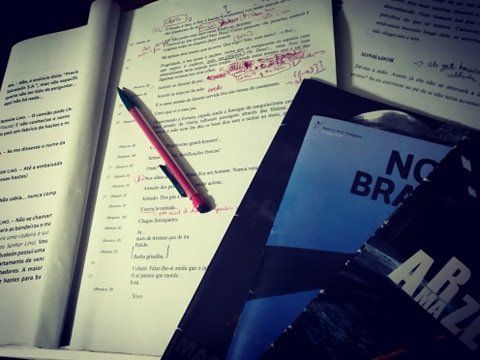
A Cantina Fantocheiro
por Filipe Gaspar - 11 de Maio de 2021
A protagonista deste conto é uma velha e vermelha carrinha Toyota Hiace. Conheço-a deste os meus treze anos, de quando parava no Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia e participei com o meu grupo amador na mostra jovem. Era o Caos, não o festival, Caos era o nome do meu grupo de aventureiros do teatro. Para ser honesto, o nome adequava-se perfeitamente às tragédias levadas a cena. Mas voltando à carrinha, que é muito mais famosa do que o Caos. São poucas as pessoas que eu conheço que não tenham já visto o veículo do Teatro Art’Imagem estacionado ou simplesmente a passar nas ruas da baixa do Porto. E é precisamente neste aspecto curioso que me quero focar no desenrolar desta história. Logo após a estreia do “Desastre Nu” de António Aragão, todos os equipamentos culturais foram obrigados a encerrar portas. Era dia 10 de Março e o primeiro espectáculo encenado por uma mulher na história da companhia estreava já meio abalado por uma pandemia mundial. Quem não se deixou abalar foi a Daniela Pêgo, encenadora do dito cujo “Desastre”, que mesmo depois de algumas desistências de uma lotação esgotada não deixou a “Nu” qualquer insegurança. Estreámos e fomos para casa. O Art’Imagem parou. A carrinha não. Além de fazer parte deste elenco, há um outro colectivo que abraço, a Saber Compreender. Esta associação de voluntários ajuda pessoas em situação de sem-abrigo e como devem calcular este confinamento só trouxe desvantagens para quem está nesta situação de vulnerabilidade. O plano era simples, fazer chegar à rua comida quente e uma palavra de conforto. Temos tudo? Sim. Comida, temos? Sim. Águas, temos? Sim. Voluntários, temos? Sim. Transporte, temos? Não. Então não temos tudo caraças! Pensei logo na carrinha do teatro porque conheço a generosidade das pessoas que compõem esta tribo. Eu sabia exactamente a resposta que ia receber do Zé Leitão. É tão bom, tão bonito poder contar com o altruísmo dos outros. A carrinha estava no papo e magia estava quase a principiar. A nossa rota de distribuição inaugura no Bairro do Cerco, segue para Francos, Viso, Pasteleira, Pinheiro Torres, Aleixo, Campo Alegre, Mouzinho da Silveira, Sé e finda na Batalha. A carrinha deu logo nas vistas, além da cor chamativa, tem grafado em letras bem grandes Teatro Art’Imagem. Só depois de sairmos do interior, com coletes da associação, é que os beneficiários da refeição perceberam quem éramos. “Ui vocês agora são do Teatro?”, riam. Explicava o empréstimo. “Ah muito bem, eu por acaso gosto de teatro, mas não há guito”. A carrinha despertou muita curiosidade e bastante gente ao longo do nosso percurso disse já conhecer a viatura e faziam muitas perguntas sobre a companhia. Um senhor perguntou, “precisam de atores? Olhe que eu sei mentir muito bem”, desta vez fui eu que ri. Nós actores somos uns mentirosos e o público finge que acredita, mas tal como no poli-amor consentido, não há traição. O nosso grupo de voluntários também se sentia bem dentro da carrinha, viajávamos apertados por entre caixas de comida e o cheiro a sopa dominava o ar. Bem melhor que o cheiro do álcool gel. Aparentávamos as companhias de Teatro de Robertos que saltavam de capelinha em capelinha e abriam a mala em forma de fantocheiro para apresentar o “Freguês caloteiro”. A carrinha do teatro transforma-se numa cantina e a arte dá lugar à satisfação de uma necessidade. Mas não nasce a arte também de uma necessidade? Não é a arte, tal como o amor, a capacidade de compreender a igualdade na diversidade? E não seremos nós os caloteiros destes “fregueses”? Numa outra paragem, já perto do teatro campo alegre vive um homem debaixo do viaduto. Tem bastante dificuldade em caminhar mas já nos conhece e reconhece a carrinha da sua janela de cartão. Tem um rádio e põe bem alto o “apita o comboio” para nos receber. Dançámos juntos na rua apesar dos seus pés deformados. A carrinha traz alegria mas também regressa com a mala cheia de gratidão. Última paragem, Batalha, Teatro Nacional São João. O teatro persegue-nos. Pessoas que dormem na rua junto aos teatros também. Estará a cultura doente? É chocante observar a imponência do teatro nacional que alberga activistas de palco que não são assim tão diferentes dos activistas de sofá. Precisamos de um teatro sem paredes, como na Grécia ou pelo menos que estes que temos, abram as portas e não expulsem ninguém das soleiras. A velha carrinha vermelha continuará a sua viagem, já todas as pessoas daquela rota sabem ao que vem. Nunca mais se vão esquecer da humanidade do Teatro e um dia quando tudo isto acalmar, vão sorrir ao vê-la passar.
Filipe Gaspar - Actor e Activista na Saber Compreender

Papéis de Viagem
por José Leitão e Daniela Pêgo - 20 de Abril de 2021
De comboio fomos os dois do Porto a Faro onde no belíssimo Teatro Lethes tínhamos apresentado o espectáculo BemMarMeQuer, aí encontramos a restante equipa e enquanto uns regressavam ao Porto de Comboio, a carrinha partiria connosco numa viagem longa. De Faro a Valência, uns bons 1000 quilómetros. Íamos apresentar "A Maior Flor e outras Histórias segundo José" de José Saramago, no âmbito do Circuito Ibérico de Artes Escénicas. O tempo custava a passar. Viajávamos ambos no banco da frente, como sempre Zé Lopes guiava a nova carrinha, comprada em segunda mão, ao meio Zé Leitão e na janela Daniela, porque enjoa, diz, para justificar o lugar. No banco de trás Flávio e Pedro dormitavam. Para passar o tempo, lembrámo-nos então de fazer uma espécie de "cadáver esquisito" de palavras. foi isto que saiu enquanto atravessávamos as vastas planícies castelhanas.Hoje, nestes tempos de quarentena e continuando o Teatro Art' Imagem "Em Volta dos Textos " demos de caras com este pequeno emaranhado de palavras, e relido parece-nos que ele faz agora mais sentido do que nunca.
Papéis de Viagem
O passado passou, foi-se, ficou-se, morreu, perdeu
De morte morrida.
Qual sentido? Qual vida?
De morte parida.
Que rasto deixou?
A estrada ferida, a língua perdida,
Os caminhos andados, as falas faladas,
As pernas tremidas.
Que caminhos andaram?
De largas passadas, por lá se ficaram.
Encontros fugazes em bolhas vidradas,
Amores desavindos, amores encontrados
Cabeças perdidas em outros passados.
Beijos desejados nas bocas cerradas.
Corpos rosados, fatigados os braços
De adeuses constantes.
Riscos pisados na boca do risco
Na toca do lobo
Com sono, sem fôlego
Num dia sem noite.
Sem frio, sem ar
Um tempo acabado.
José Leitão, Director Artístico e Encenador do Teatro Art'Imagem e Daniela Pêgo, Encenadora, Actriz, Formadora e Assistente de Produção do Teatro Art'Imagem

Fotografia de André Rabaça
Primeira carta da quarentena - Um postal ao meu amigo Bob
por Flávio Hamilton - 13 de Abril de 2021
Dias sucedem-se sem o ardor das paixões partilhadas
Pois a volupia dos dias são os segrdos que se contam em liberdade
As ruas insistem em fugir para lugares desconhecidos,
que não voltaremos a pisar da mesma forma, espera-se
Fica em casa! Fica em casa! Fica em casa!
Ouvimos repetidamente, amigo
E ficamos em casa;
mais tempo que no resto do tempo das nossas vidas; assim nos parece agora
Temos casas (quem tem) mas não sabemos viver em casa
O apelo fora é o verdadeiro regresso
Estaremos em plena descoberta de que afinal isso de tornar-se a casa tem sido uma grande ilusão
Não se torna a casa
A casa pouco mais é que uma etapa intercalar,
onde tudo nos é familiarmente distante
Há agora um silêncio maior que a frieza das horas, que passam estranhamente depressa
Embora o tempo, a pedido de não sei que profeta,
tenha ficado como o sol de Canaã
A desconfiança de nos sabermos sós no planeta tornou as noites gélidas e desprotegidas
Somos o avesso de um abraço e
tornamo-nos aos poucos como as geadas antes das colheitas
O cobertor não se dispõe mais a cumprir com os rigores da sua função
A noite parece cair como um véu ágil e furtivo sobre as nossas cabeças
É a voz do escuro a soltar os seus gracejos à nossa nova condição reclusa;
dia e noite, a mesma nebelina
Temos saudades da plenitude de um rosto
No entanto, somos um fiozinho ténue de matéria viva,
que liga a coisa nenhuma
É terrível o medo de desintegração por contágio universal
A rua nasce vazia e morre deserta, lentamente
Resurge, porém, todos os dias, dias a fio
Ao contrário de tantos já sem forças para renascer Nada mais resta que renascer, amigo Bob
As várzeas voltarão a florir, é certo
Maio será maduro como outros Maios, depois de Abril
Haveremos de colher nossas maias,
contra conspirações futuras, recordando ainda o tempo presente
E o nano-bichinho há-de morrer em paz depois de tanto roubar a nossa
A esperança, quando creio, é o passageiro oculto de um corpo profundo como o breu
Sairemos, pois, munidos de tochas bruxuleantes, do corpo da noite compacta
Ainda que sem a densidade do fogo purificador que há-de transformar a existência
(há sinais que não permitem cume às ilusões),
é possível regressarmos esvaídos dos empecilhos das certezas absolutas do eu e do meu
(insiste a esperança; hoje é dia das crenças)
Assim sendo, quem sabe, possamos reaprender com o nosso mais fiel amigo,
agora que o conhecemos melhor,
a farejar a terra que nos fez corpo
Terra, o nosso mais completo manual de sobrevivência
Estes dias vão pousando lânguidos na cintura perra do isolamento
A voz sedentária arruma palavras na memória futura
O caldeirão de cultura movimenta-se espesso em águas já precárias,
agora impróprias para consumo
São dias de pão sem espírito e sem pão, para tantos que sempre viveram em estados de emergência;
agora de urgência
Outros há que migram para o sul,
não vá acabar a primavera a título definitivo
Queremos sempre do futuro maior transparência nestes tempos de peçonha
Mas o futuro teme a humanidade tal como nós tememos as pragas;
pois presente e futuro são raízes que se comunicam;
o nosso passado não é de boa fama, diz o presente
E nós, que temos a dizer?
Que diremos depois, queimada a lanterna dos sentidos recentes?
Tempo. Tempo. Tempo. Folha delicada onde já não cabem todas as palavras perdida.
Quantas perguntas serão necessárias para que o sopro do vento traga meia resposta, amigo Bob?
Flávio Hamilton - Encenador, Actor e Formador do Teatro Art'Imagem

Ensaio sobre o isolamento: o poder da literatura em tempos de pandemia
por José Pedro Pereira - 06 de Abril de 2020
Vivemos tempos complicados. O que parecia ser um sonho distante rapidamente se transmutou para a realidade atual. Estamos a ser alvo de um dos males que no imaginário literário muitas vezes se utilizou para prever o fim da humanidade: uma pandemia. Seu nome é COVID-19, uma doença provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2. Muitos falam de presságios e premonições, mas é óbvio que não se trata dum caso sem precedentes. A história da humanidade já nos deu motivos para temermos tal destino: desde a terrível peste negra no século XIV, passando, em tempos mais recentes, pelas várias cóleras que têm vindo a surgir desde o século XIX, a gripe espanhola no início do século XX e os novos casos de gripe A, ébola e gripe suína nas últimas décadas. Com isto, decidi colocar uma questão a mim mesmo: qual o poder da literatura em tempos de pandemia? Para responder à questão, decidi analisar algumas das obras que ao longo dos últimos séculos abordaram este tema para uma melhor compreensão do problema que hoje nos consome incessantemente.
Um dos primeiros grandes exemplos na literatura surge em 1722 pela mão de Daniel Defoe, com a sua obra “A Journal of the Plague Year” (“Diário da Peste de Londres”). Neste livro é feito um relato histórico da peste bubónica de Londres de 1665 tendo como base variados testemunhos dos acontecimentos. É interessante ver como este mesmo autor trabalhou o tema do isolamento, uma questão igualmente atual, na sua magun opus “Robinson Crusoe”, onde um sujeito passa vinte e oito anos isolado numa ilha deserta após um naufrágio. Um século mais tarde, em 1826, vemos surgir também no mundo anglo-saxónico uma obra de Mary Shelley tendo uma epidemia como tema central: “The Last Man” (“O Último Homem”). Não fosse a autora famosa pelo fantástico (em todos os sentidos da palavra) “Frankenstein”, esta sua obra posterior, como seria de esperar, aproxima-se mais do emergente género da ficção científica do que algo baseado em factos reais. Aqui vemos um relato apocalítico duma sociedade futura (entre 2073 e 2100) devastada por uma praga. Saltando novamente um século, vemos como este tema é recorrente e igualmente pertinente com a publicação de um dos mais importantes romances de Albert Camus, “La Peste” (“A Peste”). Nesta obra vemos o retorno da peste bubónica à cidade argelina de Oran, sendo que neste caso se recupera a temática como metáfora para se refletir acerca dos anos de guerra que antecederam a publicação da obra. No final do século foi a vez de José Saramago contribuir para esta temática com a publicação de “Ensaio Sobre a Cegueira”, em 1995. Neste caso, como o título indica, a epidemia manifesta-se não pela habitual febre, tosse e dores de cabeça mas pela perda da visão.
Se quisermos abordar o outro lado da moeda e olhar a situação através da lente das “teorias da conspiração”, temos outro tipo de literatura que aborda o tema normalmente relatando histórias de epidemias fabricadas em laboratório e posteriormente alastradas tendo em mente interesses económicos, políticos, religiosos, entre outros. Um bom exemplo disso é a obra “The Stand” de Stephen King, de 1978, o relato de uma peste fabricada pelo governo americano como uma arma biológica que foi libertada por acidente tendo causado a dizimação de 99,4% da população mundial. É interessante referir esta obra neste momento em que vivemos não só pelo seu valor mas também pelo facto de que o autor no passado dia 22 de março publicou no seu Twitter o áudio do capítulo 8 da obra de modo a sensibilizar as pessoas e alertá-las para o modo como os vírus facilmente se alastram.
Estes são apenas alguns dos inúmeros exemplos de obras que refletem acerca do problema das epidemias e consequentes repercussões. Mas qual o grande propósito destas obras? Na maior parte dos casos, não se trata meramente dum alerta para vinda duma gripe que acabará com a nossa espécie, mas mais propriamente dum pretexto para refletir acerca da condição humana em tempos de crise. Tal como a temática da guerra, esta coloca o ser humano num estado de desespero que faz com que a sua essência se revele.
Na obra de Defoe podemos ver uma descrição do modo como as diferentes classes sociais se muniram contra a peste: as classes superiores conseguiram fugir em pequenas embarcações para fazer a sua quarentena longe dos centros de contágio enquanto as classes inferiores, pela falta de dinheiro, infalivelmente foram devastadas sem opção de fuga ou tratamento. Nesta mesma obra vemos como a ausência das autoridades no estado de crise aumentou a taxa de criminalidade, a qual, em grande parte, não era fruto da fome e desespero, como seria de esperar, mas simplesmente pela possibilidade de a cometer sem consequências. O totalitarismo é outra das temáticas abordadas nesta obra pelo modo como o controlo severo dos governantes punia todos aqueles que abandonassem as suas habitações, sendo preferível famílias morrerem dentro das suas paredes do que saírem em procura de tratamento e potenciar a expansão da praga. As questões religiosas também são abordadas pelo modo como os crentes se dividem entre aqueles que acreditam ser uma punição de Deus e outros questionam a sua existência.
No livro de Mary Shelley, podemos ver igualmente abordado o tema de excesso de autoridade em tempos de crise mas também é dada uma enorme importância ao indivíduo. Como lidar com a nossa existência na proximidade cada vez maior que temos com a morte? Esta é a parte mais aterradora da narrativa, a ideia de que a vida como a conhecemos poderá deixar de existir, criando uma crise existencial em cada indivíduo que poderá traduzir-se em várias formas. A principal será obviamente o medo e suas consequências. Neste caso concreto, o medo incita à criação de rumores constantes como o avistamento dum sol negro e o que poderá advir dessa mesma situação. Cada um tem uma leitura diferente em relação a isto e o medo e caos fazem com que o que restava de humanidade se vá gradualmente deteriorando. As profecias multiplicam-se ao ponto de romper com a realidade que circunda os seus intervenientes.
Com Camus igualmente vemos todas as temáticas anteriormente mencionadas mas uma componente bastante pertinente na sua obra é o absurdo que situações como estas criam. O modo como uma epidemia surge é absurdo na maneira como inicialmente tudo parece não passar duma maleita inofensiva e apenas quando a normalidade social começa a ser comprometida é que os indivíduos se apercebem do mal e o pânico rapidamente se instala. O absurdo incide igualmente pelo modo repentino como tudo começa, quase como se um poder superior decidisse agitar o nosso destino. Como combater o absurdo? Primeiro há que reconhecê-lo enquanto tal, é absurdo e nunca deixará de o ser, depois é necessário controlar a situação da melhor forma sem tentar encontrar uma explicação para o sucedido mas principalmente uma solução. No entanto, o modo como a situação é tratada aqui faz com que o absurdo não consiga ser propriamente aceite por aqueles que se viram separados de quem amavam e estimavam, sendo absorvidos pela ansiedade e consequente alienação.
Saramago centra-se na universalidade da situação pandémica, começando pelo modo como a narrativa se passa num lugar indefinido com personagens anónimas, apenas nomeados pelas suas características biológicas e traços que os definem social e/ou psicologicamente. Como referido anteriormente, nesta obra temos uma pandemia ainda mais terrível que as das outras obras pelo facto de esta causar a cegueira dos infetados. No entanto, a certo ponto da narrativa o leitor pode levantar várias questões: quem é realmente afetado numa situação destas? Será que, como diz o ditado, “em terra de cegos, quem tem olho é rei”? Isto porque neste caso, quem vê é quem realmente tem noção do pandemónio que se instalou. Será esta uma bênção ou uma maldição? Acima de tudo, para além de todas as temáticas já abordadas, a mais pertinente aqui é o modo como o instinto do ser humano vem à superfície quando o medo e a destruição se instalam. Aqui vemos a perda gradual dos valores morais e culturais, uma sociedade dominada pelos apetites mais rudimentares. Na falta de ordem e justiça, o ser humano revela-se na sua essência animalesca e primitiva e acaba por ser mais mortífero que a própria pandemia.
No caso de King, como vimos anteriormente, trata-se dum cenário extremo em que a população mundial se reduz a 0,6% daquilo que era anteriormente. Esta obra já entra a fundo no mundo da fantasia criando uma narrativa épica semelhante à trilogia de J. R. R. Tolkien, “The Lord of The Rings” (“O Senhor dos Anéis”). Aqui, como consequência da situação, surge um novo sistema social onde se formam duas fações opostas numa alegoria clássica do confronto entre o bem e o mal. As conotações religiosas são recorrentes na construção duma sociedade ideal, explorando-se a persistência cíclica do mal na forma dum imperador totalitário e as forças que o tentam contrariar na construção dum mundo justo e igualitário.
Deste modo, após brevemente analisar algumas das obras que se centram em contextos pandémicos, tal como os temas que elas abordam, surge novamente a questão: qual o poder da literatura em tempos de pandemia? Acima de tudo, a literatura permite-nos ter uma perspetiva externa daquilo que nos é posto diante de nós. Voltando a Saramago, mais especificamente ao seu conto “O Conto da Ilha Desconhecida”, passo a transcrever uma das suas mais famosas citações: “É necessário sair da Ilha para ver a Ilha”. Aqui está o poder da literatura, ela permite-nos sair, por momentos, das nossas ilhas e avaliar a situação duma perspetiva crítica tendo em vista a resolução da mesma. Por outro lado, não devemos, tal como Robinson Crusoe, permancecer em total isolamento nas nossas ilhas (felizmente temos a internet), nem fazer com que o fechamento de fronteiras crie, voltando novamente a Saramago, uma “Jangada de Pedra”. É preciso ter serenidade e evitar sermos vítimas de extremismos políticos, de ódio racial, de sensacionalismo exacerbado e de uma cegueira que resultará na nossa própria involução. O mundo não nos está a castigar, não é obra do divino nem uma conspiração farmacêutica, trata-se dum absurdo inesperado e há que aceitá-lo enquanto tal, sempre na tentativa de o resolver e evitar a sua propagação. Acabo citando Samuel Beckett, o qual nos diz no fim da sua obra “The Unnamable” (“O Inominável”): “you must go on, I can’t go on, I’ll go on” (“tens que continuar, não posso continuar, vou continuar”). A situação encontra-se grave, mas temos de continuar. Boa literatura ajuda não só a passar a quarentena mas também a fazer com que esta seja o mais curta possível.
José Pedro Pereira - Dramaturgo, Assistente de Produção do Teatro Art'Imagem e Colaborador do Fundo Teatral Art'Imagem/CC Maia